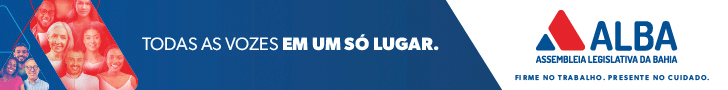Entre fichas, cartões e chamadas a cobrar, o telefone público foi voz, socorro e ponte de esperança nas ruas do Brasil
Por Itamar Ribeiro*
A tecnologia avança — e avança rápido. Na comunicação, então, o ritmo é quase vertiginoso. Celulares de todas as marcas, modelos e operadoras dominam bolsos e mãos; quem não tem plano, compra crédito on-line, na farmácia da esquina, na padaria, em qualquer estabelecimento. Tudo prático, instantâneo, digital.
Mas hoje eu quero falar de um velho companheiro, silencioso e resistente, que por muitas vezes me socorreu: o “orelhão”, o telefone público — aquele abrigo ovalado que, por décadas, foi extensão da nossa voz nas ruas.
Quantas vezes recorri a ele para transmitir boletins aos programas de rádio, para interagir com ouvintes distantes, para cumprir compromissos profissionais que não podiam esperar. Se a ligação era local, lá ia a ficha metálica; se para outra cidade, o cartão telefônico comprado com cuidado, quase como quem guarda um bilhete precioso. E ainda havia as chamadas “a cobrar”, solução engenhosa para quem precisava falar, mesmo sem saldo no bolso.
O orelhão não era apenas um equipamento urbano — era utilidade pública, era socorro imediato. Por ele se chamavam ambulâncias, bombeiros, o 190 da Polícia Militar, órgãos de proteção à comunidade. Em momentos de aflição, era ali, sob o pequeno abrigo acústico, que vidas eram salvas.
O telefone público surgiu no Brasil no início da década de 1970. Os primeiros exemplares foram instalados em janeiro de 1972, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. O projeto foi desenvolvido a pedido da Companhia Telefônica Brasileira (CTB), então principal concessionária de telefonia no Sudeste.
O design icônico — em forma de ovo, pensado para oferecer proteção acústica e resistência ao vandalismo — foi criado pela arquiteta e designer sino-brasileira Chu Ming Silveira, em 1971. Ela buscava uma solução que unisse funcionalidade e beleza, que resistisse ao sol, à chuva, ao barulho das cidades e, ao mesmo tempo, acolhesse a voz humana. “A melhor forma acústica”, dizia ela sobre o formato oval.
Originalmente chamados de TUPs (Telefones de Uso Público) ou tecnicamente “Chu I” e “Chu II”, os aparelhos rapidamente ganharam o apelido carinhoso de orelhão — e tornaram-se símbolo do mobiliário urbano brasileiro, reconhecido como um marco do design nacional.
Durante décadas, especialmente até o início dos anos 2000, quando boa parte da população não possuía telefone fixo em casa, o orelhão foi essencial. Era ponto de encontro, era recado deixado, era namoro começando e amizade mantida à distância. Era também cenário de despedidas apressadas, de notícias aguardadas com ansiedade, de silêncios que diziam muito.
Recentemente, a memória afetiva do orelhão voltou à televisão. O programa É de Casa, da TV Globo, apresentado por Talitha Morete, exibiu uma reportagem especial produzida pelo jornalista Cauê Fabiano sobre o nosso querido telefone público.
A matéria resgatou histórias, curiosidades e a importância social do equipamento que, por décadas, fez parte da rotina dos brasileiros. Ao rever imagens dos orelhões espalhados pelas ruas, muitos telespectadores certamente experimentaram o mesmo sentimento: um misto de gratidão e saudade — aquela saudade que aperta o peito e nos lembra que o progresso, embora necessário, também deixa marcas de despedida.
Hoje, com a retirada gradual desses aparelhos das ruas — processo acompanhado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — o orelhão caminha para se tornar peça de memória urbana. Ainda restam milhares deles espalhados pelo país, mas já são raros, quase silenciosos monumentos de um tempo diferente.
Vejo muitos desses equipamentos abandonados. E, quando os encontro, paro. Fotografo. Admiro. Recordo. Não é apenas nostalgia — é reconhecimento pela utilidade que tiveram nos seus tempos áureos.
O orelhão deixa saudade. Saudade de uma época em que a comunicação exigia intenção, moedas contadas na mão, fichas guardadas no bolso, cartões colecionados como pequenas obras de arte. Saudade de quando falar era um ato que pedia deslocamento, espera, propósito.
O tempo não volta atrás — e talvez nem devesse. Mas algumas memórias permanecem como ecos sob aquela concha urbana que, por décadas, protegeu vozes, confidências e esperanças.
E, se hoje falamos com o mundo inteiro na palma da mão, foi porque, um dia, alguém atendeu o telefone sob a sombra generosa de um orelhão.
Foto: G1

Crédito – Instagram
Itamar Ribeiro, professor acadêmico, jornalista, escritor, pedagogo, contador e teólogo.*